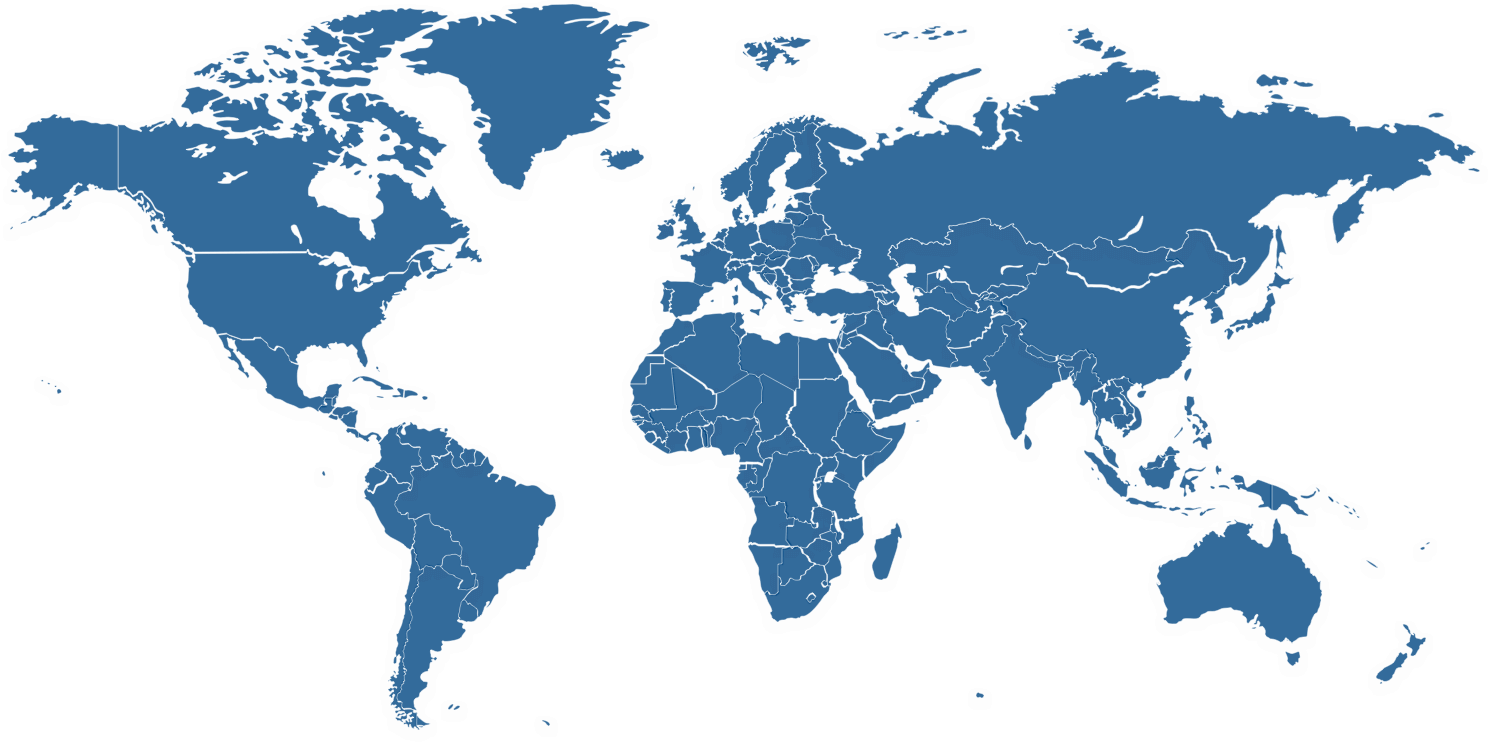Dois anos de sofrimento
Humberto Dantas[i]
Se a série da moda é a filmagem do clássico literário “Cem Anos de Solidão”, o que se vê no governo federal são dois anos de sofrimento. A Presidência não consegue, aparentemente, governar. Mas isso não é pessoal, e sim um novo modo de se governar o Brasil: um Legislativo potente e mais independente, um Judiciário ativo e uma opinião pública cindida que não empresta altas doses de credibilidade aos governos, reforçando a cristalização ideológica de Felipe Nunes e Thomas Traumann. O Brasil se tornou ingovernável?
Não. Apenas mais complexo do que a tese pura do “presidencialismo de coalizão”. Estamos diante de uma nova realidade desde 2013. Se até 2022, economicamente a década foi apelidada de trágica pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, politicamente nada altera tal sensação.
Em 2023, a KAS-Brasil lançou o segundo volume do livro Governabilidade. Se a obra do final de 2018 buscava entender os desafios de se governar o país a partir da eleição de um presidente que dizia recusar o diálogo com os partidos - elemento central à agenda do Executivo no Legislativo -, o que se pretendeu com o livro de 2023 foi entender: a) se a complexificação da governabilidade estava associada ao estilo Bolsonaro; b) ou se era fruto de novos tempos. Conclusão: estamos em uma nova era.
A cientista política Joyce Luz traz números da média de aprovação de proposições do Executivo no primeiro biênio dos últimos governos no Congresso. Entre FHC-I (1995-1996) e Dilma-II (2011-2012) os índices circularam 90%. Ou seja: Planalto encaminhou, Congresso acatou. Com Bolsonaro o indicador foi a 62%, em parte salvo pelas urgências da pandemia. Já com Lula-III, a taxa cai a 41%.
Voltemos ao livro Governabilidade-II. O I-GOV, índice mensal calculado pela consultoria 4i e relatado no primeiro capítulo da obra, mostrava que depois de 2013 tudo se tornou mais complexo: Judiciário ativo, opinião pública dividida e Legislativo “refratário”. A partir disso, o que foi o primeiro biênio de Lula-III? Segundo o indicador, a mescla das três dimensões que o compõem – Legislativo, Judiciário e Opinião Pública – carrega sinais diferentes. No primeiro caso, o percentual médio de sucesso na aprovação de medidas provisórias em 24 meses, forma de o índice tratar a relação Planalto-Congresso, não supera 20%. Isso vem caindo, com o primeiro biênio de Lula I em 75%, o segundo em 69%, Dilma registrando 52% e 36%, e Bolsonaro 21%. O epicentro dos problemas, notemos, está no Legislativo, e as velhas fórmulas distributivistas não parecem suficientes.
Junto ao Judiciário, o oposto: as médias de aprovação de Lula-III no posicionamento do STF em ações de inconstitucionalidade são crescentes, sobretudo depois que a Casa passou a julgar processos do atual governo, e não os restos da agenda antecessora. Assim, se o I-GOV Geral passou, mensalmente, dois anos em torno dos 50 pontos, é porque a justiça compensou as dificuldades no parlamento – o que os críticos à direita afirmam ser orquestrado e o governo busca utilizar para melhorar seu relacionamento no Legislativo, que não tem boa relação com o Judiciário. O STF estaria disposto a isso?
Fecha o indicador a Opinião Pública e as avaliações presidenciais. Aqui Lula-III andou reto em dois anos. Na faixa entre 47% e 57%, a oscilação vai à metade dos 20 pontos de variação do antecessor, mas está distante do que o presidente vivenciou entre 2007-2010. Assim, nada parece “furar a bolha” de resistência de quem não gosta do governo, tampouco o Planalto é atacado por quem nele votou. Neste caso, torna-se relevante compreender o comportamento da economia, sobretudo inflação, crise fiscal e câmbio, em contrapartida à ideia de um mercado de emprego aquecido – o que também pode impactar os preços. O fenômeno reforça a tese de cristalização, e caminhamos para os próximos dois anos, assistindo um governo preocupado com a Economia, a Governabilidade e a Comunicação. Será só isso?
A nova era da moderação de conteúdo em redes sociais e o futuro da liberdade de expressão online
João Victor Archegas[ii]
No início de janeiro de 2025, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, surpreendeu o mundo ao anunciar mudanças drásticas de moderação de conteúdo em suas plataformas. Isso inclui o fim da checagem de fatos, a simplificação de políticas de moderação e o recalibramento de filtros algorítmicos. Confesso que, ao ver o pronunciamento pela primeira vez, acreditei se tratar de conteúdo gerado ou modificado por Inteligência Artificial (IA). Zuckerberg usou deliberadamente termos que são repetidos por lideranças do Partido Republicano nos EUA há anos, como “legacy media” e “cultural tipping point”, além de acusar o funcionamento de “cortes secretas” na América Latina.
Como ensinam os professores John Bowers e Jonathan Zittrain, a governança de conteúdo na Internet se divide em duas grandes eras. Entre os anos 90 e 2010, vivemos a “era dos direitos”, quando o foco era a proteção do discurso online contra coerções externas. A partir de 2010, entramos na “era da saúde pública”, quando o foco passou a ser o combate à desinformação e outros perigos digitais por meio de protocolos estritos de moderação. Bowers e Zittrain argumentam, entretanto, que deveríamos apostar na transição para uma terceira era, a chamada “era do processo”, quando o foco passaria a ser a estruturação de procedimentos transparentes de governança capazes de gerar consenso sobre como decisões de moderação são tomadas e implementadas.
Essa transição era vista como uma forma de superar a dicotomia entre as duas eras anteriores. Nada obstante, o que hoje observamos no cenário global é um tanto diferente. O foco em procedimentos de moderação de conteúdo passou a ser usado como justificativa para narrativas que acusam plataformas de sistematicamente privilegiar vozes progressistas e censurar as conservadoras na Internet. Ao invés de gerar consenso, essa transição foi habilmente aproveitada por lideranças políticas para deslegitimar sistemas complexos de moderação de conteúdo e rotulá-los de “politicamente enviesados”. O pronunciamento de Zuckerberg se apresenta, à luz deste contexto, mais como uma bandeira branca de rendição.
Ao invés de justificar escolhas de moderação necessárias para a manutenção de um ambiente digital saudável e democrático, empresas como X e Meta preferiram se desfazer de parte dos seus sistemas de governança como uma espécie de juramento à proteção da liberdade de expressão. Mudanças dessa natureza, entretanto, deixam um sabor amargo de conveniência política na boca ao invés de uma percepção de comprometimento inabalável com certos valores constitucionais. Diferente do que muitos acreditam, liberdade de expressão não é apenas um valor negativo, que exige o afastamento de coerções externas, mas também positivo, é dizer, que exige a criação e a implementação de sistemas robustos de promoção e exercício da liberdade na prática.
Isso tudo nos traz de volta a um ponto central do debate sobre moderação em plataformas digitais: falta de estabilidade e previsibilidade. Plataformas comandadas por grandes corporações regulam e influenciam diversos aspectos da nossa vida em sociedade. Nada obstante, como ensina Nicolas Suzor, a atuação destas empresas muitas vezes não se coaduna “com os padrões de legitimidade que nós esperamos dos nossos governos” (SUZOR, 2020, p. 01). Mudanças como as anunciadas por Zuckerberg colocam a liberdade de expressão online em um perigoso limbo, sempre vulnerável às mudanças de direção dos ventos da política global.
Ainda é difícil prever quais serão as consequências para o Brasil. Em manifestação formal encaminhada à AGU, a Meta disse que as mudanças anunciadas valem apenas para os EUA. Considerando, entretanto, a natureza transnacional dos serviços ofertados pela empresa, é difícil acreditar que mudanças sistêmicas em políticas de moderação e filtros algorítmicos não sejam sentidas também pelos usuários brasileiros. O ano de 2025, assim, promete ser marcado por um renascimento parcial de iniciativas regulatórias de serviços digitais no país, mas agora o Brasil precisará remar sua canoa com ainda mais força contra as ondas dos grandes transoceânicos digitais.
[i] Cientista político, doutor pela USP e parceiro da KAS.
[ii] Professor de Direito na FAE e Coordenador no ITS Rio