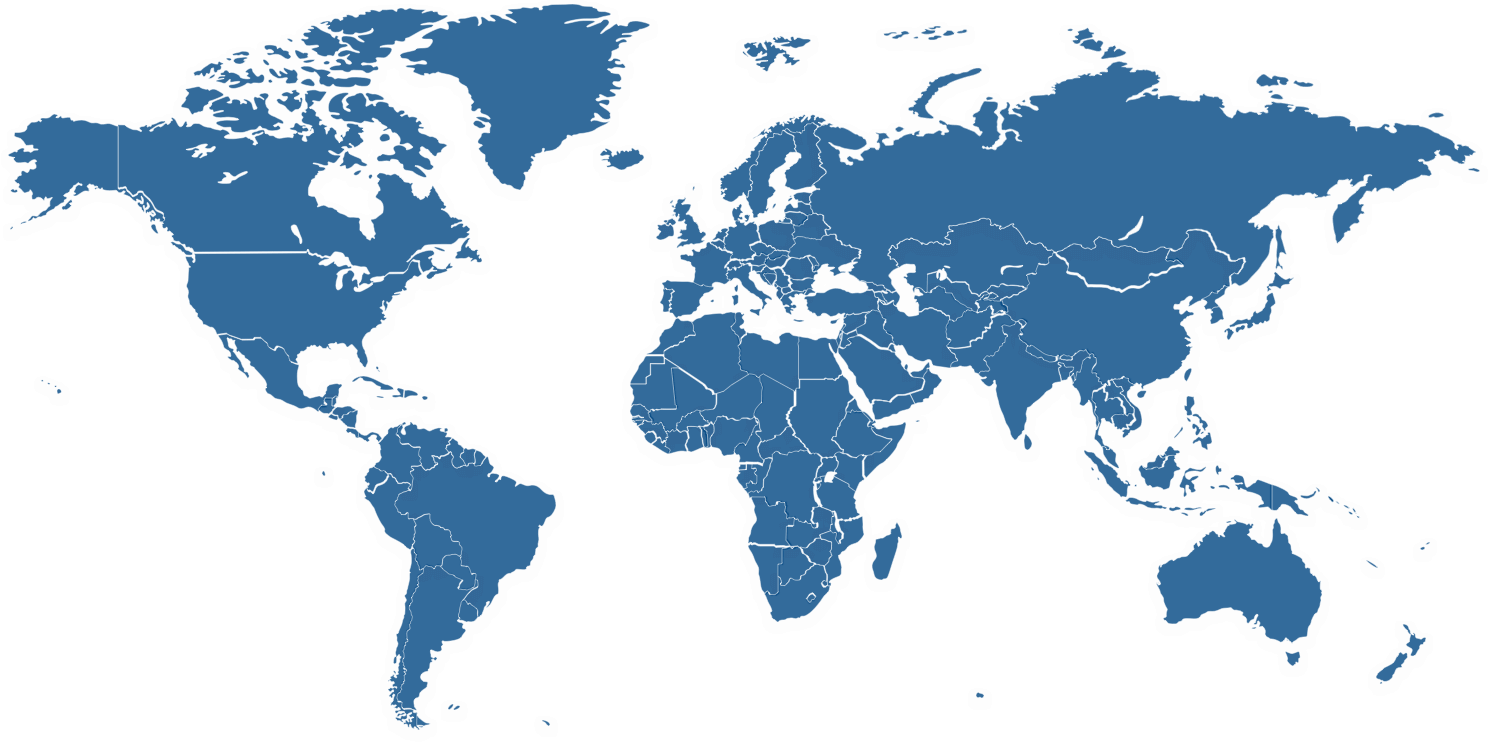Reforma ministerial para quê?
Humberto Dantas[i]
Alterações plurais nos nomes de ministros que ocupam o governo existem ao longo da história por diferentes razões. As mais conhecidas são: estancar crises, sobretudo de natureza econômica, ou associadas a escândalos de corrupção. Há também alterações para reorganizar a Esplanada em meio a processos eleitorais, recompondo equipes diante das saídas de ministros para a disputa de eleições. Por fim, quando há dificuldades para a aprovação de agendas junto ao Legislativo, reparos são feitos para a acomodação de novos partidos, ou de alas de legendas estratégicas. Neste caso, espera-se melhora nos resultados das votações no Congresso Nacional a favor do Executivo.
O parágrafo acima descreve algo comum em nossa política de coalizão: gabinetes são repaginados em virtude de cálculos políticos. No atual governo, Lula fez um primeiro gesto em setembro de 2023, com apenas nove meses no poder e depois de um trimestre de negociações. Retirou uma acusada de corrupção em crise com seu partido, garantindo substituto do mesmo União Brasil; trocou o lugar de um aliado do PSB e; defenestrou do Esporte aliada da cota pessoal. Com o gesto, criou pasta, e acomodou Republicanos e Progressistas. Buscava melhorar sua capacidade de aprovar agendas no Legislativo, mas a carga oposicionista no parlamento não indicou melhoras.
Em 2025, passadas as eleições municipais, e diante de novos líderes nos comandos das casas congressuais, imaginava-se que Lula promovesse mais movimentos, entregando novos espaços a partidos aliados em troca de mais apoio legislativo. E o que ocorreu?
Praticamente nada, ao menos em se tratando do acolhimento de outras legendas. Na virada do ano, troca na comunicação, com estudos recentes indicando que o discurso de Lula é o mesmo. Da cota pessoal do presidente, saiu a ministra da Saúde, dando ao PT nova, cortejada e poderosa pasta, com Alexandre Padilha, que cumprira a função com Dilma. Para o seu lugar, na criticada articulação política, a ex-presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. E novo problema: a parlamentar, que assumiu a cadeira prometendo pragmatismo, não é vista como exemplo de boas relações. Lula tentou atenuar resistências e piorou o cenário, dizendo que escolheu uma “mulher bonita” para sua articulação. Até a conservadora oposição se serviu do tropeço machista para adensar críticas. E tirando mais espaço para o PT, nenhuma outra mudança ocorreu.
Do Senado ouviram-se críticas do novo presidente, Davi Alcolumbre (UBR-AP), ao ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD. O que poderia ser mudança rotulada pela troca da presidência de uma das casas legislativas, parece pouco provável de ocorrer. Na Câmara, falava-se em Arthur Lira (PP-AL) em vaga ministerial, somada à percepção de que o senador Rodrigo Pacheco também poderia ter espaço. O que se sabe até aqui é que Lula não tem sido explícito em seus desejos de alteração.
A estratégia da oposição de ver o governo definhar tem dado certo, sobretudo diante de queda acentuada de popularidade. Soma-se às incertezas associadas às reformas como fenômeno capaz de trazer bons resultados, falas de dois presidentes nacionais de partidos que estão no governo. Gilberto Kassab, do PSD, tem sido crítico ácido nas últimas semanas. Enquanto Ciro Nogueira, do Progressistas, disse que não se governa mais com base na distribuição de ministérios, e que é contra seu partido ter recebido a pasta dos Esportes.
Reforma Ministerial garante algo? A demora na aprovação do orçamento deste ano com bilhões liberados aos parlamentares, a destinação de mais de R$ 50 bilhões a tais emendas na peça de 2025 e a garantia de recursos em lógica impositiva dão mostras do que parece ser uma resposta mais assertiva aos dilemas do Planalto. Reforma ministerial para quê?
As capitais brasileiras e o enfrentamento de fenômenos climáticos extremos
Rodrigo Corradi[ii]
Se fossemos perguntar há alguns anos à uma pessoa sobre o tema das mudanças climáticas, o urso polar magro e sem gelo para se sustentar era a imagem da pauta climática nos anos 1990 e anos 2000.
Hoje será muito mais provável uma pessoa no Brasil ter como exemplo de mudanças climáticas os eventos extremos que acometem pessoas onde elas mais vivem: nas cidades. Os deslizamentos ocorridos na região da serra fluminense de maneira mais intensa a cada ano, os deslizamentos em Recife em 2018, a inundação no Rio Grande do Sul em 2024. Em todos esses casos, exemplos emblemáticos que representam um sem-número de eventos que impactaram a vida de brasileiros nessas últimas duas décadas. Esses apontam um tipo de território e um receptor desse impacto: cidades e suas populações.
Os desafios das cidades com a agenda climática hoje nos apresentam um caminho necessariamente visto sob dois aspectos. Com base na realidade das mudanças climáticas, extensamente debatidas e validadas pela comunidade científica e vivenciado na prática pelas populações em todo o mundo, o primeiro aspecto seriam as necessárias ações que mitiguem as emissões de gases que promovam o efeito estufa na escala atual, promovendo um desenvolvimento que almeje uma sociedade carbono zero. Emissões de meios de transportes, fontes de energia e advindas dos resíduos urbanos são as maiores fontes de emissões nas grandes cidades do mundo inteiro, fato que é realidade no Brasil, especialmente nas suas cidades capitais.
O segundo aspecto justamente nos coloca na necessária adaptação climática dos territórios frente a uma realidade cada vez mais instável e nos demandará um senso não somente de urgência, como de prioridades. Esse “como” estarmos mais preparados para os efeitos das mudanças climáticas constitui a agenda da adaptação local.
As capitais brasileiras estão em um espaço particular nesse momento sobre o tema da adaptação climática. São os territórios de maior concentração populacional no Brasil, possuem uma capacidade de acesso a financiamento de maneira mais estruturada e sofisticada e suas políticas e ações são a referência para as cidades grandes e médias no Brasil poderem capilarizar políticas públicas aos diferentes rincões.
Mas os mesmos potenciais criam armadilhas. São justamente as cidades que, ao cada vez mais receberam responsabilidades na entrega final dos serviços públicos, são as que mais dependem de repasses de tributos recolhidos pelos outros níveis da federação. Esse caso é mais recorrente nas capitais, referências de serviços para bem mais que seus cidadãos. Nesse formato, os esforços, muitas vezes hercúleos em termos de investimento em adaptação climática, não podem ser demandados exclusivamente pelas cidades, mesmo as capitais, sem coordenação federativa eficiente e soluções de financiamentos diferenciados para o volume das intervenções.
No Brasil, este ano de 2025 surge com possibilidades. Um ano no qual o mundo volta as atenções da pauta climática ao país pela realização da COP30 em Belém, também consiste no primeiro ano de um ciclo político. Ano que coincide com a obrigatoriedade de planos plurianuais de orçamento e com várias cidades realizando ou começando a implementar suas revisões de planos diretores, instrumento urbanístico fundamental para pensar um território com foco em adaptação.
Todas essas oportunidades carecem de reconhecimento da urgência do caso da adaptação, assim como de diagnósticos que suportem, de maneira técnica, baseada na ciência e com participação popular, as necessidades reais das cidades capitais. Essa clareza será fundamental para converter o senso de oportunidade em concretude na implementação que apoie a todos na cidade, com foco nos que mais precisam.
[i] Cientista político, doutor pela USP e parceiro da KAS.
[ii] Secretário Executivo Adjunto do ICLEI na América do Sul. Diretor do ICLEI no Brasil.